Vacina no Brasil: quando tudo errado ameaça dar certo

PixxlTeufel/Pixabay
Ao longo das décadas de 1950-1960, Jay Forrester desenvolveu uma metodologia para tentar modelar as interações dentro de sistemas dinâmicos, que fez história. Ele era professor da escola de negócios e administração do MIT e queria explicar porque algumas empresas prosperam, enquanto outras sucumbem. Na prática, fez muito mais.
A teoria dos sistemas dinâmicos ajuda a entender porque uma conjunção negativa de fatores às vezes leva a desfechos favoráveis. Sim, isto acontece, ainda que raramente. Um exemplo se deu com Elon Musk que em agosto de 2018 tuitou "estou considerando converter a Tesla novamente numa empresa privada a US$ 420. Pagamento assegurado".
A SEC (espécie de CVM americana) achou que ele havia forçado a barra ao dizer que o pagamento estava assegurado, já que as ações estavam cotadas a US$ 281,70. Vale notar que a empresa foi listada na Nasdaq desde 2010 e, até a ocasião, nunca havia chegado perto de valer tanto – quem dera US$420/ação. Em consequência do blefe aparente, a SEC multou-o na física, assim como à empresa, em US$ 20 milhões cada.
Para mitigar a fúria dos acionistas, Musk se dispôs a comprar valor equivalente à multa, em ações da companhia (71.000 ações por US$ 20 milhões). Em 27 de julho deste ano, estas ações valiam US$ 1.420/cada (após uma queda de 15%); ou seja, enquanto buscava reduzir danos, Elon Musk lucrou cerca de US$ 60,8 milhões (US$ 1.138/ação, num total de US$ 80,8 milhões – US$ 20 milhões de multa). Ah, se todo desastre fosse assim.
O Brasil talvez esteja em rota relativamente semelhante, no que se refere ao controle da crise humanitária e econômica causada pela covid-19. É público e notório que o país despontou como um dos epicentros mundiais da pandemia, junto com os Estados Unidos.
Aqui, como lá, o mérito se liga à condução errática das políticas públicas, que minou a eficácia do isolamento social, sob a combinação de convicções pessoais, desejo de evitar elos identificatórios com o núcleo econômico da crise e compromissos com forças empresariais. Em paralelo, o alinhamento ideológico Bolso-Doria, de origem eleitoral, rompeu-se e ambos passaram a se opor em relação a quase todos os assuntos geradores de mídia, inclusive, vacinas.
Assim, no lado federal, o Brasil anunciou, em 27 de junho, um acordo de cooperação com a AstraZeneca/Oxford, que originalmente previa a aquisição de 30,4 milhões de doses (num segundo momento, Bolsonaro falou em 100 milhões de doses) da famosa "vacina de Oxford", aliada à transferência de tecnologia necessária para a produção local subsequente, por US$ 127 milhões.
É como se cada dose importada saísse a cerca de R$ 23 – valor que deve cair, quando a produção nacional tiver início. O acordo ainda não foi assinado, havendo sempre o risco de não avançar, mas, se der certo, pode subsidiar campanhas de vacinação contra a COVID-19, a partir da virada do ano, conforme o UOL reportou.
Já o estado de São Paulo optou por um acordo específico com a chinesa Sinovac, que possui formato semelhante e que será operacionalizado pelo Instituto Butantan. A iniciativa custou R$ 85 milhões e prevê que 60 a 120 milhões de doses sejam enviadas ao país (há diferentes declarações públicas sobre isto), se a vacina for aprovada na fase III, a qual envolve testes em 6 estados brasileiros.
Independentemente desses números, o argumento central por trás do acordo paulista é de que a vacina da Sinovac baseia-se na inoculação do vírus inativo, técnica há décadas dominada pelo Butantan (clique aqui para saber mais).
Críticos das iniciativas estão dizendo que não são mais do que tiros no escuro, já que nenhuma das duas vacinas têm sucesso garantido. É esta ressalva que eu gostaria de discutir hoje, à luz do panorama mais amplo das dificuldades e oportunidades que acredito estarem em jogo.
Para começar, importa saber a chance de sucesso destas duas vacinas. Ninguém sabe, mas muita gente arrisca. Levantamento que fiz a partir de declarações de fontes independentes sugere que, em ambos os casos, a chance de sucesso esteja entre 50 e 80% (média 65%), o que significa que a chance de que ao menos uma das duas vacinas cumpra seu papel é de cerca de 88%.
Para além das probabilidades animadoras, é preciso ter em mente que reduzir o assunto à dicotomia sucesso/insucesso é completamente inadequado – e aqui não estou apelando para os seus sentimentos mais nobres e humanitários, mas apenas à razão. Por exemplo, você pagaria R$ 100 num bilhete de uma rifa que lhe conferisse apenas 1% de chance de ganhar? Para mim, a resposta é "depende". Se a rifa pagasse R$ 100 milhões, eu pagaria com certeza. Você não?
A maneira correta de se avaliar o pay-off de investimentos de risco não se encerra na presença/ausência do mesmo (tampouco na sua magnitude) como sugerido por algumas autoridades médicas que andam falando sobre isto na mídia. Importa saber quem é maior: o produto do custo de aquisição pela chance projetada de sucesso ou o custo de postergar qualquer ação até o momento em que tenhamos mais subsídios para decidir. Se este último for superior ao produto dos dois primeiros, o risco comprado da AstraZeneca e/ou Sinovac terá se pagado. É simples assim.
Não se trata de modelagem trivial, mesmo desconsiderando os custos subjetivos diários, que irão se manifestar como sofrimento psíquico, conflitos interpessoais e traumas psicológicos associados à violência doméstica, cujo crescimento recente em parte se explica pelo fato de que maridos/companheiros desequilibrados estão passando mais tempo em casa (a porta da rua é a serventia da casa, queridos). Faltam dados sobre o quanto o lançamento de uma vacina contra a COVID-19 com, digamos, 80% de eficácia, nos pouparia por dia; tão pouco encontrei dados do tipo sobre qualquer outro país.
Por outro lado, vale notar que, nos Estados Unidos, o custo econômico projetado da covid-19 é de cerca de US$ 8 trilhões, enquanto o acordo federal feito com a Pfizer envolve o pagamento de US$ 1,95 bilhão por 100 milhões de doses (cerca de R$100,00/dose). Outras 100 milhões de doses foram adquiridas da Sanofi e GlaxoSmithKline, por US$2,1 bilhões (cerca de R$107,00/dose). Já a Moderna, cuja vacina foi alavancada por US$483 milhões, no contexto da Operação Warp Speed, anunciou que irá cobrar US$50-60/dose, nos Estados Unidos.
Ainda que os dois países tenham realidades econômicas muito diversas, os dados reforçam a máxima de que o impacto diário da ausência completa de imunidade populacional é enorme e de que estamos pagando uma pechincha pelas vacinas. Assim, ao que tudo indica, o pay-off da aquisição combinada dos riscos AstraZeneca/Sinovac é tanto superior ao de se esperar para decidir depois, quanto ao de se apostar em apenas um deles.
O desacordo somou – ou melhor, pode somar, desde que não seja engolfado por visões distorcidas sobre as vacinas – o que se torna mais claro quando consideramos que existe a chance de que seja importante contar com mais de um tipo de vacina "suficientemente eficaz para merecer distribuição em larga escala", conforme a vice-presidente da Merck, Julie Gerberding, assinalou em audiência recente do congresso americano, sobretudo, porque "a primeira vacina pode não ser a melhor para idosos ou crianças".
A dupla aquisição de doses e tecnologias não é o único "seguro" possuído. Na verdade, o mais poderoso deles é a participação no consórcio Covax (Vaccines Global Access), uma iniciativa da OMS e outras organizações internacionais, como a Fundação Bill e Melinda Gates, para garantir o acesso global a um pool de vacinas (em torno de doze). O consórcio tanto deve ajudar na democratização da vacinação, quanto deve mitigar o impacto global do insucesso de algumas opções.
Porém, as doses oriundas do consórcio, pelas quais deveremos pagar, devem chegar depois daquelas derivadas da expansão dos ensaios clínicos de larga escala, que estão sendo feitos no país. E neste caso, estamos trabalhando com as chamadas decisões intertemporais, aquelas para as quais o tempo conta.
Mas, afinal, por que outros países não seguem o nosso exemplo, abrindo as portas para as empresas produtoras das vacinas em estágio mais avançado fazerem seus testes de fase III, em troca de melhores condições negociais? Pela simples razão de que essa oferta não está na mesa para todo mundo.
Não é que estejamos isolados nessa situação (por exemplo, o Reino Unido conta com um braço do ensaio clínico da vacina da AstraZeneca maior do que o nosso, enquanto nos Estados Unidos, a Moderna iniciou a fase III do teste de sua vacina, com 30 mil sujeitos, sob a premissa de que este sirva de esteira para facilitar a vacinação em massa subsequente); mas, de fato, o Brasil está em posição privilegiada no que se refere ao acesso precoce às vacinas em estágio de desenvolvimento avançado, sobretudo se considerado que ainda não contamos com uma versão local, neste estágio.
Corroborando este ponto, a Pfzier também incluiu o Brasil nos seus testes clínicos de fase III, os quais devem acontecer nas cidades de São Paulo e Salvador, durante o mês de agosto, enquanto o Paraná irá sediar testes clínicos de fase III da vacina da Sinopharm, conforme o UOL reportou.
A razão para tanto é simples e trágica: a taxa elevada de disseminação da doença nos coloca na zona de interesse dos fabricantes. Sobre este pano de fundo, um histórico de desenvolvimento de vacinas para doenças tropicais de baixo interesse para os grandes laboratórios internacionais criou as condições para operacionalizar a parte mais crítica dos dois acordos: a produção nacional subsequente. Acho que merece um tuíte, com um daqueles coraçõezinhos bem bregas – mas sinceros – para os incansáveis cientistas brasileiros que consolidaram esta expertise e que serão imprescindíveis para que saiamos deste abismo.

Engin Akyurt/ Unsplash
Não se iluda achando que a vacina é a linha de chegada
O pensamento reconfortante da pandemia é o de que o lançamento da vacina irá funcionar como uma espécie de linha de chegada para tudo o que tem a ver com COVID-19, exceto a crise econômica, que qualquer pessoa em sã consciência entende que vai se estender por anos. Melhor não se iludir.
Por mais que a tese apresentada na seção anterior seja correta e a gente de fato esteja prestes a assistir nossas falhas serem convertidas em facilitação, é preciso considerar um ponto que está sendo menos discutido – e, de acordo com fontes especializadas da indústria que consultei, planejado – do que deveria: a logística de encapsulamento, armazenamento e distribuição ampla das vacinas.
Existe um gargalo global na produção de frascos capazes de encapsular adequadamente a vacina que imuniza contra a COVID-19. O vidro destes frascos é produzido a partir de um tipo de areia de baixa disponibilidade, que ajuda a manter a temperatura interna – essencial para a preservação de sua eficácia – e, como não poderia deixar de ser, está cada vez mais difícil e caro adquirir esta matéria-prima (para entender mais sobre estes frascos e o gargalo de produção, acesse aqui).
Há alternativas em teste, mas nada que prometa suprir a demanda de curto prazo. Uma consequência possível disto – ainda que não provável – é o surgimento de gargalos capazes de atrasar o envasamento da produção nacional.
Na esfera do armazenamento, vacinas precisam ser mantidas em refrigeradores especializados até o momento da aplicação. Ao passo que isso não promete ser um problema grave em boa parte do país, é esperado que crie uma situação complexa e altamente dependente de boa vontade política, em regiões remotas, fortemente afetadas pela COVID-19.
Por exemplo, houve uma explosão de casos entre índios do Pará e povos isolados da floresta, em toda a região norte do país (vale notar que a desassistência indígena frente à doença chegou ao STF). São territórios gigantes, que se espalham sob o sol amazônico e que não contam com estradas adequadas e, em muitos casos, com redes elétricas estáveis, ou sequer existentes.
Do mais, uma visão clara do desafio que virá precisa levar em conta que as vacinas disponíveis demandarão duas doses (ao que parece, intervaladas em um mês) para a imunização, que por sua vez deve durar entre meses e alguns poucos anos, o que é bem diferente da tão sonhada imunização esterilizante (permanente). Pascal Seriot, CEO da AstraZeneca, recentemente declarou que a imunização da vacina que a sua empresa está desenvolvendo pode durar entre 12 e 18 meses, ainda que "a verdade seja que a gente não sabe".
Outro ponto delicado é relativo ao resultado clínico esperado. A vacinação adequada vai garantir que ninguém mais carregue o vírus e possa transmitir a doença, certo? Ainda não se sabe, mas é razoável considerar que isto pode estar errado, dado que as primeiras versões da vacina deverão gerar cobertura incompleta.
As razões para tanto são várias – e o assunto como um todo permanece sob uma aura fortemente especulativa -, mas um argumento frequentemente relacionado à hipótese de cobertura incompleta diz que o vírus ataca primariamente o sistema respiratório, sobretudo através da mucosa do nariz e da boca, ao passo que as primeiras vacinas têm/terão aplicação intramuscular, a qual tende a não ser ideal.
Esta relação entre cobertura incompleta e permanência do vírus no sistema respiratório (no caso, nas chamadas vias respiratórias superiores) é esclarecida em artigo publicado na revista Nature, onde se lê:
"A resposta sistêmica à vacina da Moderna (nota: o que pode se aplicar às suas concorrentes), tende a não produzir imunidade nas mucosas. Mesmo que a vacina confira proteção contra infecções do trato respiratório inferior, as pessoas tenderão a continuar vulneráveis a formas subclínicas, mas potencialmente contagiosas, de infecção da mucosa nasal".
No lado das vacinas baseadas na inativação o vírus, no nosso contexto representadas pela da Sinovac, é preciso considerar a possibilidade de um fenômeno raro, chamado incremento dependente de anticorpos (conhecido como ADE, nos meios especializados), o qual se caracteriza pela potencialização do vírus no organismo de quem recebe a aplicação. Este fenômeno foi recentemente observado em uma pequena subamostra de macacos que, após receberem uma outra vacina experimental para COVID-19, baseada em inativação virótica, desenvolveram síndrome respiratória aguda. Definitivamente, não há motivos para alarmismo, até porque ensaios clínicos da vacina da Sinovac revelam que a mesma não produziu efeitos do tipo em modelos animais; mas vale tomar esta hipótese longíqua como lembrete de que o jogo não estará ganho quando a vacinação em larga escala começar.
Há ainda a questão de que, para a vacinação fluir, é preciso que existam máscaras, luvas, alcool e outros equipamentos de proteção individual (EPIs) em abundância. Mas não é exatamente isso o que falta, nos hospitais públicos desassistidos, incluindo alguns nas periferias das grandes capitais? Cadê os estimadores (modelos matemáticos associados à provisão de recursos) de EPIs para a distribuição massiva das vacinas? Sem isso, não tem vacinação que se sustente.
A perspectiva de que os gargalos logísticos são tão ou mais desafiadores do que a aquisição das doses, somada à de que esta primeira geração de vacinas pode se mostrar incapaz de erradicar o Sars-CoV-2, reforça a ideia de que a conjuntura potencialmente vantajosa que vai se formando pode andar para trás rapidamente, fazendo com que tenhamos sucessivos surtos da doença, ao longo dos próximos anos.
Aqui, nada me parece ter importância maior do que a determinação de uma heurística (regra que não cabe numa fórmula só) socialmente responsável para a distribuição dos lotes de vacinas disponíveis.
O braço brasileiro do ensaio clínico da Sinovac (fase III, que deve encerrar em setembro) tem uma regra muito boa, posto que eficiente e responsável, para a distribuição das 18.000 doses oferecidas (para 9.000 sujeitos): prioridade para o corpo clínico na linha de frente do enfrentamento à pandemia. Em caso de aprovação da vacina nestes testes, as 60-120 milhões de doses que devem chegar aqui deverão priorizar idosos e outros participantes de grupos de risco, conforme declarou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantã. Parece fazer sentido, assim como parece ser uma lógica suficientemente simples e exaustiva para poder nortear as políticas federais. Doce ilusão.
Na hora do vamos ver, o que vai contar mesmo é se serão idosos das favelas ou gente que tem muito mais condições de seguir isolado em casa por mais um tempinho; se os postos de vacinação vão se concentrar onde existe estrutura (leia-se: nos bairros ricos das cidades de melhor IDH), ou onde o atendimento se mostra mais necessário. Difícil ser otimista e achar que o problema se esgota na existência de uma vacina, quando estas questões relativas à realidade da vacinação num país altamente desigual batem à porta.
Na minha visão, este é o núcleo de preocupações mais importante para que o tão sonhado novo normal (sim, pior expressão do período) não seja simplesmente uma continuação de tudo o que vimos até aqui.














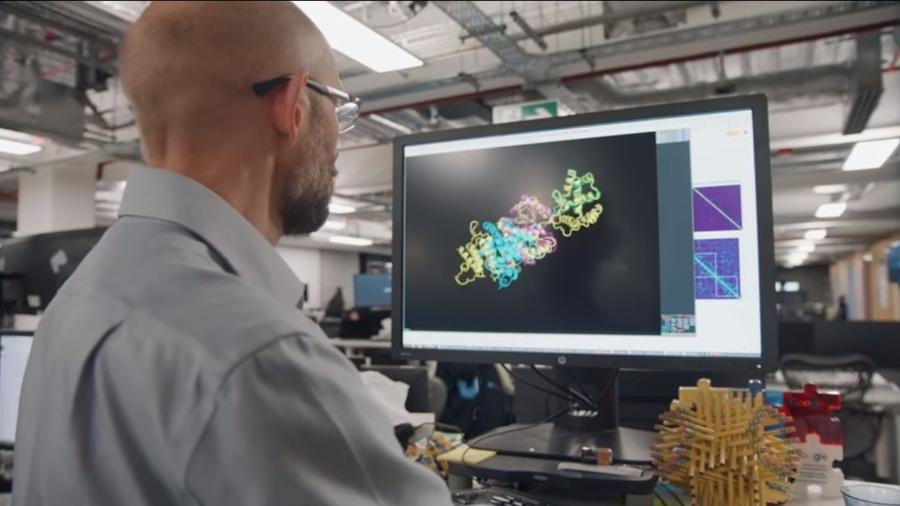
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.